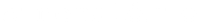A protagonista, uma corista aspirante à vedete, tem uma visão irreal de tudo que a cerca. Enquanto assiste à apresentação da idolatrada Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones), por exemplo, ela toma o lugar da estrela e recebe os aplausos da platéia. Em seguida, depois de assassinar o amante que havia prometido apresentá-la a um agente, Roxie se derrama sobre um piano enquanto ouve o ingênuo marido (John C. Reilly) defendê-la perante a polícia. As introspecções da moça são apresentadas em forma de números musicais num palco. Nada de dezenas de figurantes invadindo o cenário, ou personagens cantando como forma de continuidade de seus diálogos. A fórmula clássica dos musicais de Hollywood é abandonada em “Chicago” a favor de uma opção narrativa que privilegia a coerência das cenas e, ainda assim, consegue manter o tom esplendoroso que caracteriza o gênero.
Mas o que “Chicago” quer nos dizer com esse híbrido fílmico-musical? Alguns podem questionar que o debate sobre a “exacerbada preocupação com a aparência a qual se submeteu a sociedade moderna” tornou-se lugar comum. Realmente, se olharmos para trás, veremos que o assunto foi tratado inúmeras vezes no próprio Cinema. Mas isso quer dizer alguma coisa.
“Chicago” se situa no final da década de 20, quando Hollywood saciava o auge do “star system” de seu então recente sistema de estúdios. Naqueles anos, criou-se um imaginário fantasioso na mente do público, cuja idolatria pelos astros e estrelas de cinema era revertida em lucro para aqueles que controlavam a nascente indústria cultural. “Mas o filme trata de musicais, não de cinema”, alguém pode argumentar. Tudo bem. Foi também na década de 20 que os espetáculos da Broadway alcançaram seu ápice. E, embora um pouco distante da cidade de Chicago, a fama da grande avenida de Nova York estava espalhada por todos os cantos. A responsável por essa divulgação não podia ser outra senão a imprensa, claro (que, não coincidentemente, passava, nessa mesma época, por um processo de estreitamento de relações entre Jornalismo e Publicidade).
Ora, o que temos em “Chicago” é exatamente uma representação desse quadro. Na tela e no palco, Roxie é a pessoa comum que quer se tornar uma celebridade como Velma. Contudo, como não tem seu talento reconhecido, o caminho que ela encontra para chegar ao estrelato é o do crime. A década de 20 se caracteriza também pela “era de ouro” da Máfia, do jogo clandestino, da marginalidade e da corrupção policial em Chicago. A peça original tinha essa intenção de criticar a falácia do sistema judicial – e no advogado Billy Flyn (Richard Gere), que nunca perdeu uma causa e garante que salvaria até mesmo Cristo da cruz, temos uma caricatura burlesca de toda encenação que se passava nas cortes. Billy é quem consegue as manchetes nos jornais para Roxie. É quem passa todas as falas que ela terá que decorar para fazer uma boa imagem de si mesma. Ele assume o papel do agente que Roxie jamais encontrou através dos contatos de seu amante. Billy é o titereiro, Roxie e os jornalistas são suas marionetes, e os espectadores são o seu público.
Não, o discurso da aparência não está esgotado. O que se vê em “Chicago” ainda se encontra hoje em dia. A década de 20 foi a gênese da história da sociedade moderna ocidental. Sociedade essa que o teórico social Guy Debord chamou de “sociedade do espetáculo”, onde tudo o que pode ser vivido se torna uma representação. Através dos olhos de Roxie e da câmera de Rob Marshall, vemos em “Chicago” uma ilusão. Afinal, o Cinema é ele mesmo uma arte ilusória, que dá movimento a imagens estáticas através de uma série de fotogramas exibidos em sequência. Por mais metalingüística que essa análise possa parecer, o figurino escolhido a dedo, o equilíbrio da direção de arte e as coreografias elaboradas (pelo próprio diretor, diga-se de passagem) criam, de fato, uma reprodução de época muito bem cuidada, oferecendo ampla margem de interpretação para o que é representado na tela.
Para aquela sociedade dos anos 20, a exaltação da imagem tornou-se fundamental para a consolidação de uma identidade que vinha sendo construída desde a explosão consumista, resultante da Revolução Industrial. E não é absurdo dizer que essa preocupação com a aparência e com o que é dito sobre você nos jornais flui com a mesma energia, senão com mais vigor ainda, nos dias atuais. Aqueles que buscam a fama vêem-se, como Roxie, condenados a ela, seja em uma prisão, em uma mansão luxuosa e isolada da cidade, ou ainda em uma casa aberta às espiadas do público. “Obrigada, obrigada! Sem vocês nós não teríamos conseguido!” O agradecimento é de Roxie e Velma, mas pode-se ler as mesmas palavras na boca de qualquer um que conquiste seus minutos de fama (sim, porque, mais cedo ou mais tarde, todos somem com o tempo). E somos nós, o público, que colocamos essas pessoas – ou as representações delas – lá em cima.
O plano final de “Chicago” deixa o espectador sob esse peso: um espetáculo pode ser construído da forma que for e através dos meios que mais forem convenientes, entretanto, sozinho, ele é apenas um substantivo; cabe ao público transformá-lo em adjetivo, tornando-o espetacular. Mas, claro, para isso é necessário ter uma visão crítica. Caso contrário, se bastarem apenas os belos olhos de Roxie, confundir fama com infâmia é um equívoco que pode facilmente ser cometido.
direção: Rob Marshall; roteiro: Bill Condon (baseado na peça de Maurine Dallas Watkins); fotografia: Dion Beebe; montagem: Martin Walsh; música: Danny Elfman; produção: Martin Richards; com: Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Taye Diggs, Dominic West, John C. Reilly, Colm Feore, Queen Latifah, Christine Baranski, Lucy Liu; estúdio: Miramax Films, Producers Circle, Storyline Entertainment; distribuição: Imagem Filmes. 113 min

Editor-chefe e criador do Cinematório. Jornalista profissional, mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e crítico filiado à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e à Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Também integra a equipe de Jornalismo da Rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Votante internacional do Globo de Ouro.