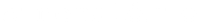Esse país é a África do Sul no momento seguinte ao que Nelson Mandela é libertado da prisão para ser eleito presidente. O contexto histórico, aliás, é espertamente filmado por Eastwood com uma textura de imagem de arquivo, própria dos noticiários televisivos. Só que tudo é encenado com Morgan Freeman já no papel de Mandela, o que torna mais orgânica a bela transição da imagem de vídeo para os 35mm escopados que Eastwood compõe tão bem.
Daí em diante, temos não um filme óbvio sobre racismo, mas um conto de superação e redenção construído na forma de um típico filme de esporte. “Típico” no sentido de “tradicional”, aspecto inerente a filmografia e persona de Eastwood. Ele usa aquele recorte da história da África de “Mandiba” (apelido pelo qual Mandela era conhecido entre seus companheiros e simpatizantes partidários) para falar mais uma vez de princípios, civilidade e compaixão.
Em nenhum momento, Eastwood titubeia para correr o risco de soar moralista. Ver seus filmes se tornou algo próximo de ouvir conselhos numa boa conversa com nossos pais ou avós. E beneficiado pela história de superação do time de rugby da África do Sul, que era considerado o azarão do campeonato mundial de 1995, Eastwood nos emociona.
Aliás, prova da eficiência do cineasta (como se precisasse de alguma) é fazer alguém que não dá a mínima para um esporte como o rugby torcer e gostar do jogo – em outras palavras, faz você se importar com o que vê. E não é necessário entender as regras do rugby para acompanhar o filme, já que Eastwood, dono de um poder de síntese sem igual, preocupa-se em resumir os principais aspectos do esporte em poucas cenas, sem com isso ser didático.
Difícil encontrar defeitos em “Invictus”. Aquele que seria mais fácil de apontar é o desfecho, todo filmado em câmera lenta, o que pode parecer grosseiro ou falta de acabamento. Mas toda a sequência capta muito bem a essência de um momento como aquele, em que cada segundo, cada movimento tem uma importância que parece ser capaz de fazer o tempo durar mais. A escolha do diretor é precisa e sintetiza perfeitamente a sensação que se tem de que a vibração emotiva que o filme carrega é bem mais acentuada e plana do que em qualquer outro trabalho de Eastwood. E é algo que pode incomodar tanto quanto pode envolver o espectador.
Geralmente, não escrevo sobre atuações, mas vale destacar, por fim, as duas ótimas interpretações de Morgan Freeman e Matt Damon. São dois atores que possuem a habilidade de desaparecer dentro de seus personagens, afastando qualquer ligação com suas personalidades extra campo ou com outros papéis que já viveram. Você acredita que eles são quem interpretam. E Eastwood não comete nunca o erro de colocar rostos muito conhecidos em papéis secundários, já que isso quase sempre afasta o espectador do filme, pois não há tempo para desassociarmos o ator do personagem.
direção: Clint Eastwood; roteiro: Anthony Peckham (baseado no livro de John Carlin); fotografia: Tom Stern; montagem: Joel Cox, Gary Roach; música: Kyle Eastwood, Michael Stevens; produção: Clint Eastwood, Robert Lorenz, Lori McCreary, Mace Neufeld; com: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Patrick Mofokeng, Matt Stern, Julian Lewis Jones, Adjoa Andoh, Marguerite Wheatley, Leleti Khumalo, Patrick Lyster, Penny Downie, Sibongile Nojila, Bonnie Henna; estúdio: Warner Bros., Spyglass Entertainment, Revelations Entertainment, Mace Neufeld Productions, Malpaso Productions; distribuição: Warner Bros. 133 min

Editor-chefe e criador do Cinematório. Jornalista profissional, mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e crítico filiado à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e à Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Também integra a equipe de Jornalismo da Rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Votante internacional do Globo de Ouro.