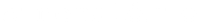“Alice no País das Maravilhas” foge um pouco dessa nova regra de mercado porque, desde o início, os estúdios Disney anunciaram que o filme seria lançado em 3D. O problema é: Tim Burton não utilizou a mesma câmera e os mesmos computadores que James Cameron usou em “Avatar”. O que Burton fez foi rodar o filme em película e imaginar como determinados ângulos poderiam gerar um efeito 3D na pós-produção. Ou seja, diferente de “Avatar”, onde o 3D faz parte da linguagem utilizada pelo diretor, em “Alice no País das Maravilhas” o 3D não passa de mais um mero efeito especial criado por computador depois da filmagem.
Resultado: a diferença entre o 3D de “Alice” e o de “Avatar” é gritante, ao ponto em que muitas das cenas de “Alice” sequer parecem estar em 3D. Afinal de contas, elas não foram filmadas assim! E não se engane: a maioria dos filmes 3D que chegarão aos cinemas até o final do ano, exceto as animações, vão apresentar o mesmo tipo de problema. Para quê pagar mais caro pelo ingresso, então?
Fora esse porém, “Alice no País das Maravilhas” só peca por ser sombrio demais, o que reflete outra tendência de Hollywood que prega que “sombrio” é sinônimo de “profundo”. Não é. Não fosse a boa ideia de transformar o filme numa continuação da história original, e ainda o senso de humor de Burton e seu sempre impecável design de produção, o filme poderia ser confundido com mais um capítulo de “As Crônicas de Nárnia”. Ou seja, seria apenas mais uma aventura num mundo fantástico, mais próxima de C.S. Lewis do que de Lewis Carroll.

Editor-chefe e criador do Cinematório. Jornalista profissional, mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e crítico filiado à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e à Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Também integra a equipe de Jornalismo da Rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Votante internacional do Globo de Ouro.