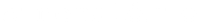Quem conhece os filmes anteriores de Arnaldo Jabor, sabe que o universo em que o cineasta situa suas histórias é repleto de personagens que, se por fora aparentam ser pessoas comuns, por dentro escondem uma sordidez que desafia os preceitos da sociedade conservadora. Mas o que chama a atenção na abordagem de Jabor é que esses personagens são representados do avesso – é como se eles pensassem alto o tempo todo, dizendo e fazendo coisas que, na vida real, só existiriam na consciência e na inconsciência daquelas pessoas. Muitas vezes, são desejos reprimidos ou tentações a que não se resiste, mas que são camufladas em nome da boa aparência. É cinema feito no purgatório.
“A Suprema Felicidade” começa diferente de outros filmes de Jabor, como “Toda Nudez Será Castigada”, “O Casamento” ou “Eu Te Amo”. Até mais ou menos a metade da projeção, o filme parece ser bem mais fácil de digerir para o público que não possui bagagem prévia das referências e inspirações de Jabor, que variam de Nelson Rodrigues a Federico Fellini. Somos apresentados a diversos momentos da juventude do protagonista (criado a partir da vivência do próprio Jabor no Rio de Janeiro dos anos 50), indo do drama familiar que envolve as brigas dos pais ao humor que toma conta das molecagens na vizinhança e no colégio de padres. Temos aí boas atuações de Dan Stulbach e Mariana Lima, como os pais do personagem principal, Marco Nanini, como o avô, além dos veteranos Jorge Loredo e Ary Fontoura, como seus professores.
Enquanto se detém nessas memórias, apresentadas desde o início de forma cronologicamente desconexa (como se, de fato, a narração se passasse na mente – ou seja, na consciência e na insconsciência – do protagonista, com uma memória puxando a outra), o filme de Jabor agrada bastante. No entanto, a coisa desanda quando entra em cena Maria Flor, no papel da primeira grande paixão de Jayme Matarazzo, que interpreta o protagonista na fase pré-adulta. A partir daí, “A Suprema Felicidade” deixa de ser aquele filme de nostalgias e se torna um autêntico filme de Arnaldo Jabor. A atmosfera se obscurece, como se aquela fase da vida trouxesse, junto com as mulheres, temores até então desconhecidos pelo jovem Paulo, mas que Jabor já explorou a torto e a direito em sua obra. As memórias parecem virar assombrações, as referências rodriguianas abundam e a linearidade da narrativa é completamente abandonada. Personagens entram e saem. Subtramas eclodem (uma delas, com Tammy Di Calafiori em atuação deslumbrante, é praticamente um curta dentro do longa). Um número musical de rua acontece sem muita razão, a não ser pelo prazer da canção. São muitos “o quês” e poucos “porquês” (não necessariamente algo ruim).
Essa ousadia de Jabor retoma um cinema que é praticado com dificuldade atualmente no Brasil – filmes que não são “filmes”, nos quais as sensações são maiores do que o raciocínio, e cenas abertas valem mais do que um enredo fechado. Ele fez um filme hoje como ele fazia duas, três décadas atrás. Esta é, de fato, a volta de Jabor, e não apenas o retorno dele ao cinema após quase 25 anos, mas seu retorno ao passado histórico e cinematográfico.
A Suprema Felicidade (2010, Brasil)
direção: Arnaldo Jabor; roteiro: Arnaldo Jabor; fotografia: Lauro Escorel; montagem: Letícia Giffoni; música: Cristovão Bastos; produção: Francisco Ramalho Jr., Arnaldo Jabor; com: Marco Nanini, Dan Stulbach, Mariana Lima, Elke Maravilha, Jayme Matarazzo, Michel Joelsas, Caio Manhente, João Miguel, Maria Flor, Tammy Di Calafiori, Emiliano Queiroz, Maria Luisa Mendonça, Ary Fontoura, Jorge Loredo; estúdio: Ramalho Filmes, AJ Produções, Paramount Pictures; distribuição: Paramount Pictures. 125 min

Editor-chefe e criador do Cinematório. Jornalista profissional, mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e crítico filiado à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e à Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Também integra a equipe de Jornalismo da Rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Votante internacional do Globo de Ouro.