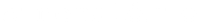O documentário “Histórias Que Nosso Cinema (Não) Contava“, primeiro longa da cineasta paulista Fernanda Pessoa, participou da 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em competição na Mostra Aurora. O título do filme brinca com o nome de um clássico das chamadas “pornochanchadas” brasileiras: “Histórias Que Nossas Babás Não Contavam” (1979), de Oswaldo de Oliveira. A proposta de Fernanda é fazer uma releitura histórica da ditadura militar no Brasil usando trechos de filmes realizados no país durante o período, nos anos 1970 principalmente. “Do ‘milagre econômico’ à repressão e às torturas, tudo foi retratado pelo cinema popular da época, implícita ou explicitamente”, diz a diretora, que deixa claro que pertence à geração que nasceu após a reabertura democrática e realizou o projeto a partir de um conhecimento empírico vindo do próprio cinema, de uma pesquisa inicial de mais de 150 títulos a que ela assistiu. Desse total, 30 foram selecionados e são apresentados na sequência de créditos iniciais como se fossem o elenco do filme.

O documentário é ousado: tem o mínimo possível de informações textuais na tela e nenhuma entrevista ou narração em off. Fernanda deixa as imagens falarem por si e aposta na percepção básica do espectador para que o filme se faça entender: é na associação de ideias que seu trabalho opera, por meio da montagem, realizada junto de Luiz Cruz. O risco maior aqui reside tanto na costura de alguns trechos para efeito irônico e crítico quanto no teor controverso dos próprios filmes selecionados. Filmes marginalizados por grande parte do público e da crítica desde a época em que foram feitos até o tempo atual. Para Fernanda, fazer o documentário “revelou o quanto a memória do cinema nacional não está sendo preservada. Filmes de importância histórica e estética não estão disponíveis ao público.”
Na entrevista a seguir, realizada em Tiradentes após o debate com a diretora sobre o filme, Fernanda fala sobre questões como as dificuldades que surgiram na pesquisa, a importância do seu olhar feminino sobre os filmes machistas da época, o desafio de fazer um documentário sobre um dos mais importantes períodos da História do Brasil de uma maneira inovadora e o risco de essa estratégia narrativa ser mal interpretada.
Primeiro gostaria que você comentasse sobre as dificuldades em reunir as imagens dos filmes e se você se pautou, na escolha dos filmes que entraram, por essa dificuldade. Teve algum que você queria colocar, mas teve que tirar? Ou você colocou algum que não estava previsto inicialmente, mas que tinha imagens mais tranquilas de se trabalhar?
Foi muito difícil conseguir reunir esses filmes. A gente demorou dois anos para conseguir os direitos e para conseguir as cópias em boa qualidade. Alguns a gente não conseguiu achar uma boa cópia, mas entraram assim mesmo. Em primeiro lugar, existe essa dificuldade de achar os filmes em boa qualidade. Tem vários filmes que nem os produtores possuem mais ou sabem onde estão e nós é que tivemos que ir atrás. Alguns nós até encontramos e entregamos para os diretores, os produtores e até para a família. E em segundo lugar, foi a questão de adquirir os direitos. Nós fizemos tudo com contrato, adquirimos mesmo os direitos dos filmes. Aí tivemos um que não liberou as imagens e decidimos colocar isso em questão no nosso filme. E teve um que entrou porque nós o “ganhamos de brinde”. Nós tínhamos selecionado dois filmes do Carlo Mossy e daí ele fez um combo e deu pra gente o terceiro, que é “Manicures a Domicílio”. Então, “Manicures” acabou entrando como extra e foi super bom porque usamos bastante dele.
Como o seu olhar feminino sobre os filmes, sobre a questão da objetificação da mulher e tudo mais, influenciou na escolha das cenas e na montagem das sequências?
O fato de eu ser uma mulher olhando para esses filmes, que no caso são todos dirigidos por homens, faz toda a diferença. É quase como uma subversão do sentido original desses filmes. Mas eu também acho que temos que lembrar que toda a História da Arte e a História do Cinema são machistas. É muito fácil dizer “os filmes da pornochanchada eram machistas”. Mas a História da Arte, desde o começo, é assim. Os homens pintam e as mulheres posam, os homens filmam e as mulheres atuam. As mulheres são as musas. No Cinema Novo, que era o cinema anterior, as mulheres eram as musas de um amor romântico, de uma idealização mais romântica. Enquanto que nas pornochanchadas elas eram as musas de um amor erótico. E aí eu acho que tem duas coisas: tem a questão da objetificação da mulher, que está ali muito presente, mas também tem personagens femininas muito complexas, que a gente esquece que elas existem porque elas estão nesses filmes que são chamados de pornochanchada. Tem questões como o aborto, que foi abordado nesses filmes e que a gente ainda está discutindo. Na seleção dos filmes, na escolha dos trechos, eu tive essa preocupação de mostrar os dois lados. Tanto as mulheres que estão questionando, essas jovens que estão fazendo parte da revolução sexual dos anos 70, que questionam o papel da família, da religião, como mostrar que essas mulheres também eram, sim, em muitos filmes, objetificadas. São homens filmando corpos femininos, né?
O filme é montado por um homem, Luiz Cruz. Como se deu essa parceria, até mesmo na questão da autoria? O processo de montagem sempre caminha junto com a direção, em qualquer filme. Mas no caso deste trabalho parece quase uma coautoria.
O fato de ser um montador homem… Engraçado que ele é o único homem que tem uma função grande na equipe, uma função superimportante. O filme é dirigido e produzido por mulheres, mas o montador é homem. Durante muito tempo eu pensei se não deveria ser eu a montar o filme, porque eu monto também, mas eu queria um olhar de fora. Porque o filme estava muito na minha cabeça. Um filme de montagem, eu ia acabar fazendo o filme inteiro sozinha. E eu decidi chamar o Luiz porque ele era uma pessoa muito próxima, tinha muito interesse no projeto e como a gente não tinha dinheiro, também havia esse fator condicionante. Tinha que ser alguém que quisesse muito fazer o filme sem ganhar nada a princípio, porque só depois que ganhamos o edital é que conseguimos pagar a equipe. E o Luiz sempre se interessou muito. Também acho que foi bom ter um contraponto. Nós tivemos muitos embates em vários momentos, muito mais na questão formal do que na questão de conteúdo. O que foi muito interessante. O Luiz tem uma visão política muito parecida com a minha e nessas questões mais feministas ele também ouviu muito e a gente discutiu bastante. Então, foi saudável. Não foi problemático.

Vocês assumem um certo risco por o filme não ter entrevistas, não ter uma narração… A gente percebeu isso inclusive no debate aqui em Tiradentes, de o filme talvez ser mal compreendido. E eu queria saber como vocês estão encarando essa possibilidade de não passar para o público o que vocês imaginaram, de talvez passar a impressão de ser um filme apologético e que não faz uma crítica, que não tem distanciamento. Como vocês estão se preparando para essa recepção?
Todo filme tem esse risco. No momento em que você coloca ele no mundo, ele está aí para as pessoas interpretarem do jeito delas. A nossa visão está muito presente na montagem, nos comentários dos filmes e na ironia. É um filme muito irônico. E eu entendo que muitas vezes não é tão claro quanto colocar uma cartela dizendo “eu não concordo” ou eu ali falando. Mas o objetivo era mesmo fazer um filme de montagem só com os filmes e que eles falassem por si. Para mim é muito claro que o filme não é apologético. O filme mostra muito, por exemplo, essa questão do machismo. A sociedade dos anos 70 era muito machista, para além do cinema ou não. Também era racista e está tudo no filme. Isso está bem claro no modo como a gente encadeia as imagens. Mas nós não fizemos um filme para agradar todo mundo ou para passar a mão na cabeça de ninguém. Não é um filme de homenagem. É um filme que problematiza muito a coisa. Acho que ele é polêmico mesmo e tudo bem. Acho que é para isso que fazemos cinema também, para discutirmos essas questões. É importante as pessoas discutirem e a gente entender que, dentro desses filmes chamados de pornochanchadas, tem filme machista, tem filme não machista, tem filme politizado, tem filme totalmente despolitizado… É importante para a redescoberta desses filmes também.
Vocês têm um público-alvo?
Meu desejo maior é que o filme chegue no grande público. Eu acho que ele é acessível e que, apesar de ter um formato não tão comum, ele é muito claro, tem encadeamento de blocos, é um pouco cronológico, então, ele pode ter uma boa comunicação com o grande público. E, se não for entendido, acontece. A gente está aqui para conversar e debater o que for para debater.
O historiador Marc Ferro diz que os filmes ficcionais podem ser encarados como registros documentais de fatos históricos, principalmente quando os documentários ou livros não conseguem registrar essas épocas. O seu filme tem essa função na medida em que aquelas cenas servem para resgatar o modo como o cinema reagia ao que estava acontecendo? Apesar de não ser um filme sobre os filmes, né? É sobre mostrar como o cinema reage à própria História.
Sim. Essa frase do Marc Ferro é bem importante porque um filme sempre conta alguma coisa sobre a sua época. Por mais que possa ser um filme de ficção científica, ele sempre tem alguma coisa ali que revela algo, nem que seja do modo de produção, a câmera que foi usada, como foi usada, o modo de produção entre as pessoas mesmo, a hierarquia, quem estava dirigindo… Então, o filme é um documento histórico. A gente esquece às vezes disso. E esses filmes que eu uso aqui refletem muito a História do Brasil, mas a gente não olha para eles com esse olhar… Essa frase do Marc Ferro me motiva muito, assim como uma outra frase que é de um filme, que me motivou muito no começo, que é o “Queda do Comunismo Vista Pelo Pornô Gay”, um curta de 20 minutos do William Jones, em que ele diz: “Mesmo nos lugares mais improváveis é possível encontrar traços da História recente”. Então, a questão era essa: procurar traços da História em lugares inusitados. Lugares que geralmente a gente esquece que podem ser, sim, documentos históricos.

É seu primeiro longa? Fale um pouco da sua formação e também das suas influências.
Sim. Eu sou formada em Cinema pela FAAP [Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo], que foi onde eu comecei minha pesquisa sobre pornochanchada, quando eu trabalhava na Filmoteca. E eu tenho Mestrado na Sorbonne, em Audiovisual. Essas duas formações foram bem importantes porque na FAAP minha formação foi um pouco mais prática e o meu mestrado foi mais teórico. Meu mestrado é sobre os projetos televisivos do Glauber [Rocha] e do [Jean-Luc] Godard, uma análise comparativa entre os dois. Eles são duas influêncas bem grandes para o que eu acho ser um cinema interessante. O Godard é meio clichê falar isso, mas é verdade. E mesmo os filmes menos desconhecidos, como o “História(s) do Cinema” , foram uma influência muito grande para “Histórias Que Nosso Cinema (Não) Contava”.
—
Ouça o podcast cinematório café em que discutimos “Histórias Que Nosso Cinema (Não) Contava” — aqui — e confira a nossa cobertura completa da 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

Editor-chefe e criador do Cinematório. Jornalista profissional, mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e crítico filiado à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e à Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Também integra a equipe de Jornalismo da Rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Votante internacional do Globo de Ouro.