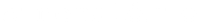Quando “Monster: Desejo Assassino” (Monster, EUA, 2003) se inicia, vemos um aviso de que o filme é “baseado em uma história real”, e ouvimos uma narração em voice-over de uma personagem cuja primeira fala é “Eu sempre quis estar no Cinema”, representando seu sonho de ser uma atriz. Se isso é um desejo da real Aileen Wuornos, a serial killer em que a diretora e roteirista Patty Jenkins se inspirou para criar esta história, ou se isso se trata de uma “licença poética”, não é possível saber. Fato é que Aileen está no Cinema, mas não por sua escolha, como atriz, e sim como personagem. As razões disso ficam claras já na sequência inicial, em que, pela gradual abertura da tela, nos são apresentados, nesse início do filme, seus desejos e ilusões ficando para trás frente a uma realidade cada vez mais trágica. Aileen, como muitas, não teve escolha, e, se consideramos a moral da personagem degradada ou deturpada, a sequência inicial do filme já nos defronta com nossa própria tendência de julgar o outro e dá o tom de uma obra que lida com a complexidade ética de nossas ações.
Chegamos ao presente que será abordado no longa logo após a sequência de apresentação. Aileen “Lee” Wuornos (Charlize Theron) nos é apresentada como uma prostituta de rua em Daytona Beach, gastando os últimos 5 dólares que ganhou de um homem enquanto toma uma cerveja e pensa na possibilidade de se matar, quando encontra Selby Wall (Christina Ricci), uma jovem lésbica, em um bar gay. O amor repentino que a protagonista sente por Selby é a única coisa que a impede de tirar a própria vida, e o enredo acompanha essa paixão e a tentativa de Lee de fazer a garota feliz. Ambas as personagens são caracterizadas como pessoas perdidas: Selby tenta, de forma quase patética, parecer mais “durona” do que ela é para reafirmar sua identidade lésbica, que é questionada constantemente pela sua família; Lee, enquanto isso, claramente se agarrou a Selby por ser a única pessoa da qual recebeu atenção e por ser aquela que a viu como mais do que a sua condição de prostituta. Juntas, apesar de serem um casal inusitado, que à primeira vista teriam pouco em comum, elas encontram uma a outra e a si mesmas, em momentos críticos de suas vidas. Como espectadores, nós dividimos com as protagonistas o desejo de que elas se libertem de suas amarras sociais de submissão e consigam finalmente fugir, unidas, para um paraíso metafórico de liberdade. Porém, a figura masculina (os clientes de Aileen, o pai da família que hospeda Selby, o policial, o chefe do escritório onde Aileen procura emprego), representante dos padrões e condições impostos a elas, aperta essas amarras e as deixa com menos e menos escolhas. O filme fica mais tenso à medida que as “rotas de fuga” das duas mulheres se reduzem, e a atuação de Charlize Theron, que rendeu a ela um Oscar de Melhor Atriz, leva essa tensão de forma brilhante para a linguagem corporal de Aileen, que fica mais dura e mais brusca, com repentes de raiva e imprevisibilidades, trazendo à tona a intensificação dos problemas psicológicos da personagem.
É na primeira vez que Lee mata um cliente, depois de ter sido espancada e estuprada por ele (em uma cena gráfica e catártica: no começo, ela está espremida no canto inferior do quadro, amedrontada; então consegue uma arma, toma a posição central no quadro, amedrontadora, e descarrega todas as balas em seu agressor), que vemos uma mudança de paradigma nas possibilidades da protagonista. Aquilo, pela primeira vez, abriu para ela uma alternativa: uma alternativa cruel, violenta, inadmissível, mas, ainda assim, a primeira alternativa real que se abriu em toda a sua vida. Patty Jenkins foi cuidadosa o suficiente para nos mostrar, em alguns momentos do filme (como quando Aileen procura um emprego formal e é completamente rechaçada e humilhada), que ela tentou alternativas socialmente aceitáveis, mas a situação de prostituição e marginalização em que ela estava era tão profundamente marcada em sua personalidade, em seu corpo, em sua vida, que não foi possível sair dela.
Porém, e é aí que reside o mérito do filme, a diretora não visa isentar Lee de sua culpa ou, no outro extremo, sensacionalizá-la como um monstro com instintos psicopatas, mas sim mostrar o quão complexa é sua personalidade, e como cada ação sua se dá em um contexto específico. Em um outro voice-over, dessa vez logo após a personagem realizar seu segundo assassinato, que definitivamente não foi em legítima defesa como o primeiro, Aileen conta sobre uma roda-gigante da sua infância que, de tão grande, era chamada de “Monstro”. Ela ficou tão assustada com o passeio na roda que vomitou, e relaciona esse episódio a uma tendência em sua vida: o mais inofensivo (um brinquedo de parque, no caso) sempre a assustou mais, enquanto fazer aquilo que parecia horrível foi mais fácil do que parecia. Além de realizar a ligação com o título, essa pequena história tem muito a dizer sobre como Jenkins retrata a moral de Aileen naquele momento: não como alguém que era incapaz de fazer o certo, mas alguém que, ao chegar num ponto crítico e ser obrigada a escolher entre o “inofensivo” ato de chamar o cliente de “papai” e não fazer isso, acha mais fácil matá-lo. Não há um julgamento se aquela seria a “melhor” escolha ou ainda a escolha “certa”, mas sim uma escolha mais “fácil”: e quantas vezes já não optamos pelo “fácil” ao invés do “certo”, mesmo que, em nossos contextos, as consequências não fossem tão graves ou os atos tão extremos? Novamente, reitero que a intenção de Jenkins não é justificar o injustificável ato de matar outro ser humano, mas sim refletir sobre como se dá o processo psicológico da personagem ante a falta de alternativas dadas pela sociedade.
Assim, “Monster” é um filme que, corajosamente, mergulha fundo em questões éticas muito difíceis, como a natureza da culpa – que é destrinchada em duas cenas-chave, uma no momento em que Aileen afirma para Selby ser uma boa pessoa, e outra no terceiro ato do filme, em uma fala de Tom (Bruce Dern) sobre a vida na prostituição ter sido forçada a Lee e sobre o fato de que ela nunca teve escolha. Nesta última, Tom traz à tona o fato de que ela “precisa viver” (“but you gotta live”), apesar de toda a culpa que ela carrega quanto a algo que, segundo ele, ela não teve controle algum. Claro que ele não sabia, ainda, que ela estivera matando seus últimos clientes: mas o que ele diz se relaciona, para nós e para ela, também com os assassinatos, pois foi essa a forma que ela achou mais fácil de “continuar vivendo”, ou seja, de sobreviver.
Em última instância, “Monster” contradiz a nossa tendência de encaixarmos uns aos outros no binário de “boa pessoa” ou “má pessoa”, justamente ao analisar mais a fundo a questão moral, reconhecendo o vasto espectro acinzentado entre nossa visão preto-e-branca, e ao se questionar sobre o que leva uma pessoa, no final, a tomar a decisão de realizar uma “boa ação” ou uma “má ação”. Isso já é, por si só, uma característica que faz o filme se destacar entre outras produções: primeiro, porque não tenta tornar sua protagonista uma “vítima” e nem uma “vilã”, fugindo dos estereótipos comuns quando se trata de obras sobre serial killers ou outros tipos de criminosos; segundo, porque reconhece que o espectador lançará julgamentos ao que vê, e, ao não endossar nem contradizer esses julgamentos, volta um espelho para o próprio espectador e pergunta: “e o que você faria ou sentiria se estivesse em uma situação similar?”