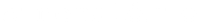por Leandro Luz
Imagine-se em um universo cujos habitantes orbitam uma onda de desesperança e niilismo. Apesar de refletir os inúmeros momentos de depressão econômica e de crises políticas vividos por nossa própria sociedade ao longo da história, suas regras são capazes de traçar este paralelo e ao mesmo tempo garantir a esse mundo fantasioso características singulares e originais. O invólucro infanto-juvenil é introduzido sob o ponto de vista de um jovem garoto, responsável por nos apresentar a todos os princípios que regem esse ambiente novo, de aspecto tão maravilhoso e espetacularizante quanto grotesco (avanços tecnológicos vão de encontro ao retrocesso em nível comunitário). Neste contexto, é apenas através de um grande desafio enfrentado por este protagonista que algum tipo de redenção, individual e coletiva, e uma nova forma de recuperar a esperança poderão coexistir. Uma empresa, representada pela figura mítica e cultuada de seu dono/criador, promove uma competição cuja recompensa poderá ser disputada por todos. O prêmio concederá uma experiência nunca antes saboreada e permitirá que o grande vencedor herde inigualáveis riquezas.
O famoso conto infantil escrito por Roald Dahl e o filme homônimo dirigido por Mel Stuart e protagonizado por Gene Wilder em 1971 (isto para não comentar aquela infelicidade cometida em 2005) são amplamente conhecidos. Apesar de tamanha semelhança, entretanto, Spielberg não se propôs desta vez a fazer uma releitura de “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, mas é inegável como seu espírito permanece entranhado em “Jogador Nº 1” do primeiro ao último plano. As críticas sociais constantemente expostas com leveza, a moral da história revelada através de um desafio final misterioso, o arrebatamento causado por um desfecho otimista e recompensador – os paralelos são abundantes e os objetivos de cada obra confluem na percepção de que somente através da ficção somos capazes de compreender o nosso mundo e apontar para qualquer direção que faça um mínimo de sentido.
As conexões entre as obras também podem ser percebidas para além da trama. Há rumores de que Wilder, antes de falecer em agosto de 2016, chegou a ser convidado por Spielberg para interpretar James Halliday, o criador do jogo de realidade virtual OASIS. Dá para notar, inclusive, como Mark Rylance, que acabou ficando com o papel, emula alguns trejeitos do veterano ator na composição de seu personagem. Além disso, Spielberg já havia adaptado uma obra de Dahl em sua carreira, o pouco comentado “O Bom Gigante Amigo” (2016). Não importa se são chaves mágicas em um jogo de videogame, um bilhete premiado dentro de uma barra de chocolate ou mesmo o Santo Graal: a busca pela recompensa é o centro de grande parte das histórias as quais “Jogador Nº 1” procura referenciar. Nesse sentido, o romance escrito por Ernest Cline é o ponto de partida para Spielberg colocar em tela uma profusão de referências à cultura pop que faz parte não apenas de um interesse comercial (vender livros, ingressos para o cinema e bonequinhos de colecionador), mas define a sua própria natureza enquanto obra. O entendimento de que a forma é tão importante quanto o conteúdo torna essa suposta gratuidade (anos 80 e referências nerd em geral enquanto mote para todas as resoluções dramáticas, incluindo o elo entre os personagens) na própria força imagética do filme. A fragilidade conceitual (principal problema de obras como a série “Stranger Things” e o longa-metragem “It: A Coisa”, talvez os grandes representantes desse tipo de “proposta oca” no mercado atual) aqui se transforma em alicerce dramático, dando lugar a uma obra muito consciente de seu lugar no cinema contemporâneo. Aliás, é curioso como o filme anterior de Spielberg, “The Post: A Guerra Secreta”, também carrega essa consciência, embalada com elementos até semelhantes, mas em prol de uma narrativa bem distinta.
O ano é 2045 e somos apresentados às condições desse novo mundo por Wade (Tye Sheridan), um jovem garoto que vive em situação precária com sua tia num bairro carente em Columbus, Ohio. Spielberg e seu fiel diretor de fotografia, Janusz Kaminski, filmam a primeira cena com um plano longo e bem elaborado (a câmera passa pelas estruturas verticalizadas que compõem a paisagem e acompanha Wade se esgueirando pelos tortuosos caminhos que o levam até a sua casa-contêiner). A paleta de cores cinzenta e o ritmo cadenciado evidenciados até aqui serão logo postos em xeque pelo mundo colorido e desenfreado do OASIS, espécie de realidade virtual escapista vivenciada por, aparentemente, toda a população, sem restrições de idade ou de classe social.
Personagens-arquétipos surgem numa tentativa de evidenciar essa relação criada no filme e a nossa sociedade atual. Conectados pela internet, por aparelhos móveis e uma necessidade de estarmos sempre vitualmente em contato uns com os outros, fica bastante claro como essa primeira camada de leitura compreende a relação entre o OASIS e as redes sociais. Os avatares que criamos são o nosso próprio espelho. Não somos mais capazes de nos enxergar completamente fora desse circuito simulado (nicknames, descrições e fotos de perfil, curtidas, visualizações – tudo é mediado por uma tela e a distância física já não determina nada). Ben Mendelsohn interpreta Sorrento, o pequeno grande vilão e um dos pontos mais fracos do filme (suas motivações são rasas e muito pouco exploradas). Por sorte, o restante do elenco faz um trabalho bem competente, sobretudo Olivia Cooke (que já havia me conquistado anteriormente no indie adolescente “Eu, Você e a Garota Que Vai Morrer”, de Alfonso Gomez-Rejon). Ela interpreta a determinada Samantha, uma das principais e mais bem preparadas concorrentes ao prêmio escondido no OASIS e muito mais do que apenas um interesse romântico do protagonista – apesar de sua aparência dentro dos padrões de beleza ocidentais (branca, magra e ruiva) contrariar o próprio conceito discutido em relação à natureza dos avatares e o discurso da personagem (sob a identidade de Art3mis) de que Wade (Parzival) se decepcionaria ao vê-la na vida real.
“It’s getting faster, moving faster now / it’s getting out of hand / on the tenth floor, down the back stairs / it’s a no man’s land / lights are flashing, cars are crashing / getting frequent now / I’ve got the spirit, lose the feeling / let it out somehow”.
A letra de “Disorder”, faixa que abre o icônico “Unknown Pleasures”, da banda Joy Division (estampado na camiseta de Samantha em algumas das cenas do filme), reflete não apenas um pouco de sua psicologia, mas todo aquele mundo virtual que se multiplica diante dos nossos olhos. Até que ponto Spielberg e a figurinista Kasia Walicka-Maimone tinham isso em mente ao escolher uma peça de roupa tão específica, não temos como saber, mas é encantador repararmos como um detalhe como esse pode dizer tanto sobre uma personagem e as circunstâncias em que ela se encontra.
Em termos de roteiro, “Jogador Nº 1” toma algumas liberdades que enfraquecem um pouco o terceiro ato. As regras tanto do universo virtual quanto do mundo real não são suficientemente bem esclarecidas para que compremos todas as decisões circunstanciais dos personagens. Entretanto, sua força está mesmo nos momentos mais descaradamente fetichizados, como na impressionante sequência que reimagina os momentos mais icônicos de “O Iluminado”, de Stanley Kubrick, e no anticlimático último desafio que o protagonista precisa enfrentar para conquistar a chave remanescente – à exceção de toda a parafernália que rodeia a cena, não é todo dia que vemos a imagem simplória, solitária e quase estática de um garoto jogando Atari se transformar em cinema; aliás, essa mesma imagem por si só já traduz muito do espírito do próprio filme: a metalinguagem enquanto estrutura narrativa; o jogo dentro do jogo dentro do filme; quando realidade e ficção já não são passíveis de discernimento. Ainda neste sentido, gosto particularmente dos momentos em que Wade vai até as memórias de Halliday na busca por pistas. O design de produção é inspirado e Spielberg faz a câmera passear por essas memórias com fluidez (o que me remete também ao trabalho exemplar do diretor anos antes em “Minority Report – A Nova Lei”).
“Todo mundo que ganha, perde”, diz determinada personagem sobre o “Adventure”, primeiro jogo na história a conter um easter egg em sua arquitetura. A partir dessa concepção, Wade entende que nem sempre ganhar é a melhor saída, o que o permite chegar ao fim da corrida pelo grande prêmio. O terceiro ato também evidencia o quanto a discussão a respeito do ego interessa ao filme. Protagonistas e antagonistas se digladiam num universo onde o ego de cada um se multiplica e se torna ainda mais ostensivo, e a figura de Halliday/Anorak é a exposição máxima disso. Precisaria assistir ao filme outra vez para discutir mais profundamente sobre esse aspecto, mas é interessante como essas discussões de caráter tão psicanalítico e filosófico estão em sintonia com os elementos explorados aqui.
Me espanta a capacidade de Spielberg, ainda hoje, após décadas de uma carreira absolutamente bem sucedida e cultuada, conceber obras tão diferentes entre si em um espaço de tempo tão curto. “Lincoln”, “Ponte dos Espiões”, “O Bom Gigante Amigo” e “The Post: A Guerra Secreta” articulam conceitos e propostas distintas que apenas confirmamos a versatilidade de seu realizador. Mesmo não acertando sempre em cheio em todos os projetos, há de se admirar o quão prolífico e talentoso ele é. “Jogador Nº 1” abrange conceitos e discussões sobre a pós-modernidade e os avanços tecnológicos, colocando sempre o lado humano em primeiro plano, como a busca por redenção ou o manifesto sobre o ego de um criador. “Os dados estão lançados e eu vou jogar”, canta Tatá Aeroplano, mirando em Sartre, mas acertando também na solidão acentuada pelos novos tempos. Talvez a saída seja mesmo, tal qual instituiu Wade, Samantha e seus amigos, manter a roda girando, mesmo que às terças e quintas precisemos diminuir um pouco a velocidade e enxergar as coisas sem o filtro aluado da fantasia. ■
“Jogador Nº 1” está em cartaz nos cinemas.