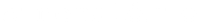O filme alavancou abruptamente comoção geral de cinéfilos e eventuais frequentadores de salas de cinema, simpatizantes do gênero horror. Logo na semana de estreia, enxurrada de comentários positivos e notas altas. O público considerou um filme bom e “diferente”. E é um filme que veio certamente começar a desbancar a tradição de jumpscares – algumas vezes decepcionantes, até para quem busca mera diversão – que há muito lastreia as bilheterias mundiais. Porém, se por um lado o diretor e roteirista de “Hereditário”, Ari Aster, procura se aproximar do público e de blockbusters como “Invocação do Mal” (James Wan, 2013), por outro ele não deixa de flertar com o famigerado – e, diga-se de passagem, de nomenclatura nada pacífica – “pós-horror”.
“Hereditário”, como sugere o nome, trata da história de uma família. Após a morte da avó, uma série de acontecimentos e revelações se desdobram, em um misto de drama e terror. O núcleo familiar é composto por Annie (Toni Collette), a mãe; Peter (Alex Wolff), o irmão; Charlie (Milly Shapiro), a irmã mais nova; e Steve (Gabriel Byrne), o pai. Há também uma personagem secundária que será a principal marca para os acontecimentos sobrenaturais do filme, Joan (Ann Dowd), que, através de um grupo de auxílio ao luto, torna-se amiga de Annie. Se na primeira metade da obra acreditamos que tenderá ao terror psicológico, daí para o fim nos surpreendemos com uma série de aparições e possessões. Um filme aterrorizante, mas, em certo ponto, dosado, com uma trilha sonora (música de Colin Stetson) que contribui para o constante clima de tensão: um grave contínuo que não se expressa com muitos sobressaltos.
A personagem principal é muito afastada de sua falecida mãe, sente-se mal por não sofrer pela perda da matriarca, mas elas nunca tiveram um relacionamento saudável. Afinal, sua mãe era cheia de mistérios e sua família passara por diversas tragédias: o pai morreu e o irmão se suicidou. Annie reflete isso na filha Charlie, confessando que a entregou à avó, em um ato de omissão. Portanto, o relacionamento entre Charlie e Annie também não é muito caloroso.
Charlie é uma personagem séria e introspectiva, sempre muito taciturna. Inicialmente, parece a fonte e origem do mal, por seu comportamento estranho e afastado. Mas Aster nos surpreende: Charlie morre em um acidente e deixa de ser o foco da trama, passando tal responsabilidade para o irmão Peter. Devo méritos à cena que inicia com o acidente de carro e se estende até o momento em que a família descobre a morte: angustiante, amedrontadora e inovadora, sem precisar apelar para muitos recursos sonoros ou visuais. Recordo aqui que o filme comporta simbologias interessantes com elementos naturais: pomba, fogo e formigas; remetendo a intenção de filmes como “A Bruxa” (Robert Eggers, 2016).
Não são necessárias maiores explanações a respeito da continuidade do longa: ele se desenrola de forma bem objetiva, até que seu final acaba por assumir uma atmosfera diferente. Como anunciei de início e a respeito das cenas finais, projeto aqui minha principal hipótese explicativa. A avó começou – ou continuou – uma seita, cujo objetivo é procurar os seres humanos “hospedeiros” de demônios invocados para formar o reinado do inferno, diametralmente oposto ao reino dos céus. O espírito invocado deveria habitar o ente familiar que fosse homem e vulnerável. Ocorre que, a princípio, a mais vulnerável era Charlie, a criança que fora criada pela avó. Charlie, no entanto, morre, e aqui cabem especulações se sua morte fora ou não proposital, pois a menina vinha recebendo sinais macabros: a avó pegando fogo, o pássaro morto e decapitado por ela. No fim do filme é dito que o corpo feminino de Charlie foi retirado e dado a ela um corpo masculino, do irmão. Observa-se, portanto, a união de um ente vulnerável (Charlie) e um masculino (Peter). O espírito maligno precisava alcançar o menino Peter para que se concretizasse a profecia, e sua mãe, Annie, foi o meio, pois era alguém com quem Peter tinha ligação, a maneira por hereditariedade mais fácil de alcançá-lo.
Annie, no caso, sempre foi uma vítima, e dentre os desastres de sua família, a história de seu irmão é bastante curiosa: suicidou-se alegando que a mãe colocara demônios dentro dele. Percebe-se que sua posição de rei não foi concretizada, pois, apesar de homem, não era vulnerável. Annie não poderia assumir o papel de hospedeira do demônio, e por isso, quando engravidou por acidente, sua mãe a obrigou a gerar o filho, ainda que Annie não tivesse vontade de ser mãe. A questão não era meramente moral, mas o interesse da avó era pelo próprio corpo do garoto que nasceria. Joan surge como amiga da avó e um liame para que Annie invocasse o espírito de Charlie e continuasse o que a matriarca não pôde concluir. Essa questão é revelada de maneira bastante abrupta perto do final do filme, quando o mesmo assume ritmo mais acelerado. Na minha visão, essa revelação poderia ter sido feita de forma mais dosada.
Novamente, pode-se dizer que, por um lado, principalmente próximo ao fim do filme, são comuns cenas de possessão, de sustos mais presos à trilha sonora, de simbologias mais óbvias e explicações do enredo (como quando Annie tenta explicar ao marido tudo o que os rondava). Esse tipo de abordagem seria desnecessária e poderia ter sido feita de outra forma caso o desejo de Aster fosse agradar especificamente os fãs peritos do herror – correndo o risco de ser esquecido no limbo dos subestimados pelo público em geral, como ocorreu com “Mãe!” (Darren Aronofsky, 2017). Ainda assim, a esse grupo em específico, o cineasta não deixa de agradar, quando no início e final do filme utiliza trilha grave, mas sem sobressaltos, simbologias mais complexas (vide as cenas finais, que nos remetem à história de Jesus Cristo, com a colocação do presépio, da cruz e da coroa), cenas de tensão que não mostram qualquer tipo de aparição (como na cena do acidente em que Charlie morre) ou então cenas de aparições sem qualquer tensão auditiva ou clichê (como na primeira vez que Annie vê a mãe).
Por fim, deixo aqui uma observação, ainda que deslocada: “Hereditário” tem composições fotográficas muito boas, de deixar qualquer perfeccionista boquiaberto. Aster trabalha com Pawel Pogorzelski, que também assinou a fotografia de seus curtas, incluindo “The Strange Thing About the Johnsons” (2011), “Munchausen” (2013), “The Turtle’s Head” (2014) e “C’est La Vie” (2016). ■


Acadêmica de Direito na Universidade de São Paulo. Cinéfila, fez das salas de exibição sua segunda casa. O cinema é, junto da fotografia, a arte responsável por ensiná-la a olhar o mundo nos seus traços gerais e específicos. Em sua vivência acadêmica busca aperfeiçoar o entrelaçamento das duas áreas do conhecimento.