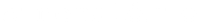Historicamente, o cinema é uma máquina racista. Machista, homofóbica, masculina. Mas especialmente racista. A linguagem cinematográfica, como a conhecemos e utilizamos hoje, foi consolidada em “O Nascimento de uma Nação”, um filme que reescreveu a história para transformar a Ku Klux Klan em heróis. Então, nada mais justo que Spike Lee, um dos principais nomes na contramão dessa tendência, use essas mesmas ferramentas para fazer algo semelhante e mostrar o que a KKK realmente é: um bando de jacús extremamente perigosos.
Porque, por mais que se anuncie como “baseado em fatos reais”, “Infiltrado na Klan” é uma versão bastante ficcionalizada da verdadeira história Ron Stallworth (se quiser algo mais fiel, leia aqui). Mas o longa de Lee – vencedor do Grande Prêmio do Júri em Cannes, e seu melhor trabalho desde “O Plano Perfeito” – é exatamente sobre como toda história que contamos é uma mentira. E o que realmente importa é o objetivo dessa mentira, e quem ela quer enganar.
Não por acaso, o cineasta abre o filme com uma cena de “E o Vento Levou”, seguida dos bastidores de um discurso racista interpretado por Alec Baldwin. Porque, mais do que contar a história de um policial infiltrado na KKK, ele quer discutir o papel das mentiras que o cinema nos contou – e o que as mentiras que escolhemos acreditar dizem de nós mesmos.
Stallworth (John David Washington, filho de Denzel) foi o primeiro policial negro de Colorado Springs que, com a ajuda do investigador Flip Zimmermann (Adam Driver), infiltrou a seção local da KKK e chegou a entrar em contato com David Duke (Topher Grace), grão-mestre da organização (que recentemente apoiou Jair Bolsonaro). Ele conversava com os membros do grupo no telefone, enquanto Flip se encontrava com eles, ambos tentando descobrir os planos da Klan.
A história real se passou em 1979, mas Lee a traz de volta para 1972, durante o governo Nixon. O que o permite pontuar o apoio da KKK ao presidente e, consequentemente, acentuar os paralelos da trama com o presente. Porque o que ele quer, na verdade, é mostrar como o racismo retratado no longa – da violência policial ao discurso da Klan – é atual. E usar seu cinema como uma arma contra ele, construindo uma história da existência e da resistência negra nos EUA com referências da blaxploitation e uma trilha de primeira – a exemplo do que fez em seus melhores trabalhos, como “Faça a Coisa Certa” e “Febre da Selva”.
E mesmo um pouco mais constrito pelo tom convencional de ficção histórica da trama, o cineasta revela sua pegada no humor irreverente nos diálogos. E no uso de cores fortes, como só ele tem coragem no cinema norte-americano, com o vermelho pontuando o caminho rumo a um clímax emocionante e sangrento.
John David Washington pode ainda não ter todo o talento do pai, mas com certeza tem o mesmo carisma. Já Driver se mostra bom como de costume, mas um pouco mais contido, compreensivelmente buscando não roubar o protagonismo negro da história. E a relação dos dois – contenciosa, desafiadora, por vezes ofensiva – é o elemento central de “Infiltrado”. É nela que Lee sintetiza o complexo discurso de seu filme, mais conciliador, e mais urgente, que o do início de sua carreira: negros, brancos, policiais, judeus, todos têm histórias diferentes. Mas se quisermos derrotar o inimigo em comum – o extremismo de Trump, Bolsonaro e afins – vamos precisar botar essas divergências de lado e lutar contra a ignorância que nos cerca. ■
Texto escrito como parte da cobertura da 42ª Mostra de Cinema de São Paulo. O crítico viajou a convite da Mostra.

Crítico de cinema desde 2004, filiado à Abraccine e à Fipresci. Jornalista e mestre em Cinema pela Universidade da Beira Interior, em Portugal, onde atualmente cursa o doutorado em Media Artes com pesquisa sobre cinema queer contemporâneo, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). É votante internacional do Globo de Ouro e já integrou o júri da crítica em festivais dentro e fora do país.