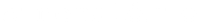Com “Mank”, David Fincher resgata uma das mais controversas histórias de bastidores de Hollywood: quem é o verdadeiro autor do roteiro de “Cidadão Kane”, Herman J. Mankiewicz ou Orson Welles? A crítica Pauline Kael foi quem primeiro levantou essa questão em seu infame ensaio “Criando Kane”, publicado em 1971. Ela defendia que Mankiewicz teve seu trabalho minimizado por Welles e que o “pai da criança” era de fato o roteirista. Não tardou para que Welles fosse declarado o vencedor dessa disputa inventada: fatos e testemunhas ignorados por Kael provariam, já no ano seguinte ao artigo, que as contribuições para o roteiro foram mútuas e que Welles foi sim determinante para o resultado final. Mas o protagonismo do filme de Fincher é de Mankiewicz, o que inevitavelmente acaba por reacender a polêmica, assim como toma partido na muito comum peleja entre roteiristas e diretores. “É um roteiro à prova de diretor”, Mank exclama aos risos, em um flashback que mostra uma reunião de pitching, ainda no primeiro ato.
O que é mais interessante, no entanto, é a forma como Fincher representa na tela esse embate criativo, realizando um filme absurdamente metalinguístico. Ele parte do roteiro escrito por seu já falecido pai, o jornalista Jack Fincher, e interfere a todo momento na imagem, impondo-se como diretor. A relação familiar dá um tempero psicanalítico a mais ao projeto, ao mesmo tempo em que se pode questionar o quão respeitoso Fincher foi em relação ao texto do pai, escrito nos anos 1990 e que ele sonhava em filmar desde então (ao que parece, Fincher e o produtor Eric Roth, também um premiado roteirista, fizeram revisões). Com a morte de Jack em 2003, pai e filho acabaram impossibilitados de ter o (nem sempre) sadio diálogo que é exatamente um dos temas tratados pelo filme.
Embora não se ocupe exatamente em ser um “(Re)Criando Kane”, e resulte mais em um filme sobre o caótico processo criativo de um roteirista imerso em dúvidas existenciais e bebidas alcoólicas, “Mank” explora o período em que Mankiewicz (interpretado por Gary Oldman) ficou praticamente exilado em um rancho para conseguir escrever o roteiro a pedido de Welles (vivido por Tom Burke), que trabalhava com um curto espaço de tempo concedido pelo estúdio RKO. O breve letreiro inicial nos fornece o contexto e nos diz que Welles tinha carta branca para trabalhar com os colaboradores que quisesse naquele que seria o seu primeiro longa-metragem. A forma como essa informação surge por último na tela dá a entender que Mankiewicz é uma pessoa difícil de lidar, algo sobre o que nós temos uma boa ideia já na primeira sequência após os créditos iniciais, quando há uma sucessão de planos curtos da estrada, mostrando carros e placas, até chegarmos ao rancho onde Mank é deixado em uma cama, engessado do quadril para baixo, pois sofrera um acidente automobilístico dias antes. Nós o conhecemos como um sujeito carismático, sem dúvidas, mas também desvairado.
De algum modo, essa primeira cena remete à introdução do próprio “Cidadão Kane”, quando aos poucos a câmera adentra o perímetro de Xanadu para nos apresentar ao personagem-título em seu quarto, onde, deitado e moribundo, ele pronuncia aquela que é uma das palavras mais famosas da história do cinema: “Rosebud”. Aqui, Fincher trabalha a alusão de maneira sutil, buscando a similaridade na memória do espectador. Quem viu “Cidadão Kane” poderá fazer a ligação entre as duas cenas de abertura, mesmo que elas sejam esteticamente diferentes. Mas há outros momentos em que as referências são mais explícitas, como o plano em que Mank deixa o braço cair da cama e uma pequena garrafa rola de sua mão pelo assoalho do quarto – aqui, trata-se de uma paródia da icônica cena em que Kane, logo após dizer “Rosebud”, sucumbe e larga o globo de neve que segurava nas mãos.
Há outros momentos em que Fincher também parece emular o estilo de direção de Welles, com planos de detalhe e close-ups bem próximos da lente da câmera, sem falar no uso da profundidade de campo. Trabalhando com a fotografia preto e branco de Erik Messerschmidt (com quem já havia colaborado na série “Mindhunter”), o diretor também usa e abusa da luz expressionista e de movimentos de câmera típicos e em desuso (como as elegantes panorâmicas verticais) para tornar o aspecto das cenas muito próximo do que encontramos em filmes realizados na época em que a história se passa, na segunda metade dos anos 1930, ao mesmo tempo em que corresponde ao modo como o cinema parecia aos olhos e ouvidos do próprio Mank, cujo ponto de vista conduz a narrativa. E isso inclui ainda a estilização dos créditos iniciais (típica dos filmes de Fincher), remetendo aos letreiros de clássicos, e a inserção digital das marcas de cigarro no canto direito superior da tela, indicando a “troca de rolos” no projetor (lição, aliás, que muitos aprenderam com o próprio Fincher em “Clube da Luta”). Os atores também impostam a voz de uma forma peculiar e os diálogos possuem um certo eco que soa como a captação sonora da época. Sem falar na trilha sonora da dupla Nine Inch Nails, Trent Reznor e Atticus Ross, frequente colaboradora do diretor, que afirma ter usado apenas instrumentos da época para gravar as músicas.
Perceba que a todo momento eu cito o nome de Fincher e sua função como diretor do filme. E isso acontece porque, de fato, a todo momento e em todas as instâncias citadas, ele faz sua presença ser sentida em “Mank”. O que é curioso e paradoxal é que essa intervenção frequente do cineasta contradiz a intenção de nos passar a sensação de assistir a um filme clássico. Afinal, a ideia da linguagem clássica é que a direção seja invisível. Se Fincher se “mostra” o tempo todo, “Mank” na verdade está muito longe de ser um filme clássico – algo, aliás, que se questiona sobre o próprio “Cidadão Kane”. Mas, diferente de Welles, que à época trabalhava de forma a inovar o uso da linguagem, Fincher atravessa todo um processo maneirista que pertence ao cinema (pós-)moderno. E ora, mesmo o espectador leigo em termos da teoria do cinema e da imagem não irá se sentar diante da TV (ou do computador ou do celular), abrir a Netflix e assistir a “Mank” achando que está diante de uma obra com quase cem anos de idade. Há sinais e motivos suficientes para cair com a noção de que o filme teria sido feito apenas para parecer um filme clássico. O uso do formato widescreen, na proporção 2.20:1, ao invés da chamada “janela acadêmica”, é outro elemento técnico que afasta o longa do período retratado.

O que é interessante nessa aparente contradição é que o filme leva a discussão sobre a criação (de uma das versões) do roteiro de “Cidadão Kane” para o campo metalinguístico. Ainda que, no fim, o filme demonstre vilanizar Welles e se incline para apoiar Mankievickz, Fincher nos mostra que sabe muito bem o quanto a visão do diretor influenciou e foi fundamental para a realização de “Kane” como o conhecemos. Ao mesmo tempo, porém, se voltarmos a considerar que o ponto de vista narrativo inteiro de “Mank” é o de seu protagonista (algo evidenciado também pelos flashbacks com intertítulos “datilografados” para identificar as passagens de cena de um roteiro), a emulação do estilo de direção de Welles por Fincher sugere uma provocação até mais audaciosa que a de Pauline Kael: a de que Mankievickz, enquanto escrevia, também pensava na forma das cenas. Isso o equipararia de vez a Welles.
Esta seria uma defesa estranha, visto que Fincher nunca escreveu os roteiros de seus longas e que Mankievickz nunca dirigiu um filme. Mas é mais um ponto para reflexão. Afinal, diferente de Herman, o irmão mais novo dele, Joseph Mankievickz, foi um cineasta bem-sucedido, com quatro estatuetas do Oscar no currículo, sendo dois deles pelo roteiro e pela direção de “A Malvada”. Um autor nato! O quanto Mank não teria carregado de frustração por nunca ter dirigido um filme também? Ou simplesmente por não ter conseguido alcançar outro feito semelhante a “Cidadão Kane”? Sua quebra de contrato ao pedir o crédito a Welles está mais do que justificada.
E já que o assunto é família, vale ressaltar que Jack Fincher viu o filho se tornar um diretor de sucesso, mas ele mesmo nunca chegou a ver seus roteiros serem filmados. Perto da época em que escreveu “Mank”, ele também trabalhou em uma cinebiografia de Howard Hughes, mas o projeto acabou passando por inúmeras revisões e acabou sendo incorporado ao que veio a se tornar “O Aviador”, escrito por John Logan, dirigido por Martin Scorsese e lançado em 2004, um ano após a morte de Jack.
Claro, estamos aqui num terreno extracampo. E ao mesmo tempo em que é interessante o filme nos levar por esse caminho, não deixa de ser também um problema que ele não discuta esses pontos ao longo de sua duração. Nesse sentido, outra ausência é um aprofundamento na relação entre Mank e William Randolph Hearst (interpretado com o cinismo sempre elegante de Charles Dance). Ora, se Hearst foi a inspiração para a criação de Charles Foster Kane e isso gerou tanta ira no magnata da imprensa, nós chegamos ao final do filme sem saber mais do que já não vimos em documentários e reportagens sobre os bastidores de “Cidadão Kane”. Do mesmo modo, a proximimidade entre Marion Davies (papel de Amanda Seyfried) e Mank é sugerida, mas nunca temos uma real dimensão do quanto eram amigos. A persistência dessas lacunas não chega a atrapalhar o filme, mas fica como uma oportunidade perdida. O que Fincher Pai e Fincher Filho nos indicam é que “Kane” teria resultado de uma combinação das personalidades, das experiências e das atribulações de Hearst, do próprio Mank e de Welles, cujo rompante no ato final adiciona o ingrediente que faltava.
“Mank” é um filme que se diverte ao comentar a realização de um clássico, mas que também se curva na poltrona em descontentamento. Ele ri jocoso diante da dissimulação dos figurões dos grandes estúdios, ao mesmo tempo em que mostra uma certa desilusão com “magia do cinema” ao apontar para a sordidez da política nos bastidores. Muito da luta de Mank pode ter parado quando ele constatou essa realidade. Daqui retornamos a Fincher, que talvez, agora, identifique-se com essa contestação das coisas ao se aproximar dos 60 anos, a mesma idade do pai quando o roteiro foi escrito. É a visão do diretor, enfim, a que prevalece. ■
MANK (2020, EUA). Direção: David Fincher; Roteiro: Jack Fincher; Produção: Ceán Chaffin, Eric Roth, Douglas Urbanski; Fotografia: Erik Messerschmidt; Montagem: Kirk Baxter; Música: Trent Reznor, Atticus Ross; Com: Gary Oldman, Tom Burke, Charles Dance, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton; Estúdio: Netflix; Distribuição: Netflix. 131 min
— Ouça o nosso podcast sobre o filme.

Editor-chefe e criador do Cinematório. Jornalista profissional, mestre em Cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e crítico filiado à Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e à Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Também integra a equipe de Jornalismo da Rádio Inconfidência, onde apresenta semanalmente o programa Cinefonia. Votante internacional do Globo de Ouro.