Imaginem um filme com um protagonista negro cujo título é uma ofesa racista. Ou uma história com nome antissemita sobre um personagem judeu. Qualquer que seja a justificativa, já é uma maneira muito questionável de começar uma obra. Me lembro de um professor no curso de jornalismo que sempre caracterizava títulos não como resumos, mas como orientações de leitura. Justamente por isso, um filme que trata de um protagonista com obesidade mórbida não poderia, em hipótese alguma, se chamar “A Baleia” ‒ não é mais uma versão brasileira tosca, mas sim a tradução literal do título original “The Whale” ‒, como acontece com o novo filme de Darren Aronofsky.
Mas o diretor de filmes como “Réquiem Para um Sonho”, “Fonte da Vida” e “Mãe!” aparentemente não se preocupou com isso ao manter o nome da peça teatral escrita por Samuel D. Hunter, também roteirista do longa. No filme, acompanhamos a difícil vida de Charlie (Brendan Fraser), professor de inglês recluso que sobrevive com a obesidade severa e tenta se reconectar com sua filha adolescente Ellie (Sadie Sink) para uma última chance de redenção, enquanto recebe os cuidados da amiga enfermeira Liz (Hong Chau) e as visitas do missionário cristão Thomas (Ty Simpkins). É verdade que há toda uma relação do protagonista com o célebre romance “Moby Dick”, de Herman Melville, e com o protagonista humano do livro, o capitão Ahab. Também é verdade que o próprio romance de Melville tem como título alternativo “The Whale”.
Mas nada disso apaga a seriedade de dar este nome a um filme cujo protagonista tem uma doença. Afinal, trata-se da história de alguém cuja condição reflete um problema real e grave de saúde pública, introduzida por um título que é ofensivo a este grupo que enfrenta a obesidade, uma doença. Ao manter o nome da peça teatral, Aronofsky está, de forma consciente ou não, orientando o público continuamente a ler o personagem como um ser animalesco, o que acaba por, na largada, desumanizar o protagonista pelo qual deveríamos sentir empatia.
Este foi um dos meus primeiros incômodos com o filme, ainda antes de vê-lo na íntegra. Mas, como sempre, resolvi dar uma chance ao projeto. E o que descobri foi que o desastre na escolha do nome ainda conseguiu ser equiparado pelo próprio longa. O problema do título é apenas um dentre os tantos pontos fracos do projeto de Aronofsky.
A começar pela representação que é feita de uma pessoa com um grau severo de obesidade. A obra parece a todo tempo querer expor o sofrimento extremo do personagem principal. Há cenas de Charlie sufocando com alimentos, caindo ao tentar se locomover sem o andador, vomitando o que havia ingerido e, sobretudo, comendo excessivamente. E aqui fica o questionamento que eu fazia a mim mesmo ao longo de toda a sessão: o que há de interessante e construtivo em testemunhar a morte agonizante de alguém cuja condição é concreta, e não apenas uma abstração fictícia? Talvez este seria um modo de conscientizar o espectador acerca das lutas diárias que as pessoas com obesidade enfrentam, assim como o ótimo “Meu Pai” (2020), de Florian Zeller, fez em relação à Doença de Alzheimer. Mas nem isso o filme consegue fazer na maior parte do tempo, pois em raríssimas ocasiões vemos o mundo de fato pelos olhos do protagonista. Em outras palavras, há poucos planos subjetivos de Charlie, e na maioria das vezes a câmera assume uma posição exterior e distante, esquadrinhando o corpo do personagem e o espaço ocupado por ele, com um claro objetivo de torná-lo um objeto de pena para o espectador.
Os próprios personagens refletem este comportamento da câmera, reagindo de forma exagerada e melodramática ao peso do protagonista. Quando Charlie finalmente se revela para os alunos, após deixar a webcam desligada durante todo o filme, as reações são de absoluto choque, como se nunca tivessem visto alguém com obesidade mórbida na vida, quando é fácil encontrar aos montes nas televisões abertas programas que relatam as experiências destas pessoas. Não que não haja gordofobia na vida real e ela não seja explicitada um sem número de vezes. Mas as atitudes dos personagens não demonstram exatamente preconceito, mas uma repulsa ridícula e uma perplexidade ingênua, quase patológica, o que não combina com o tom austero e realista que a produção procura manter.
Algumas possibilidades interessantes de desenvolvimento da história também são perdidas em detrimento deste quadro em que todos são absurdamente literais, indiscretos e sádicos. É o caso da subtrama do entregador de pizza que leva a comida para Charlie sem entrar na casa e recebe o dinheiro também do lado de fora. Ou seja, ele não sabe que o homem está com a saúde gravemente comprometida. Com o avançar da história, o entregador se identifica e Charlie retribui, o que torna a relação mais próxima e promissora. Mas, quando descobre a aparência do protagonista, o profissional simplesmente foge, espantado, mais uma vez indicando que, neste universo, assim como no roteiro, absolutamente ninguém tem o menor resquício de sutileza.
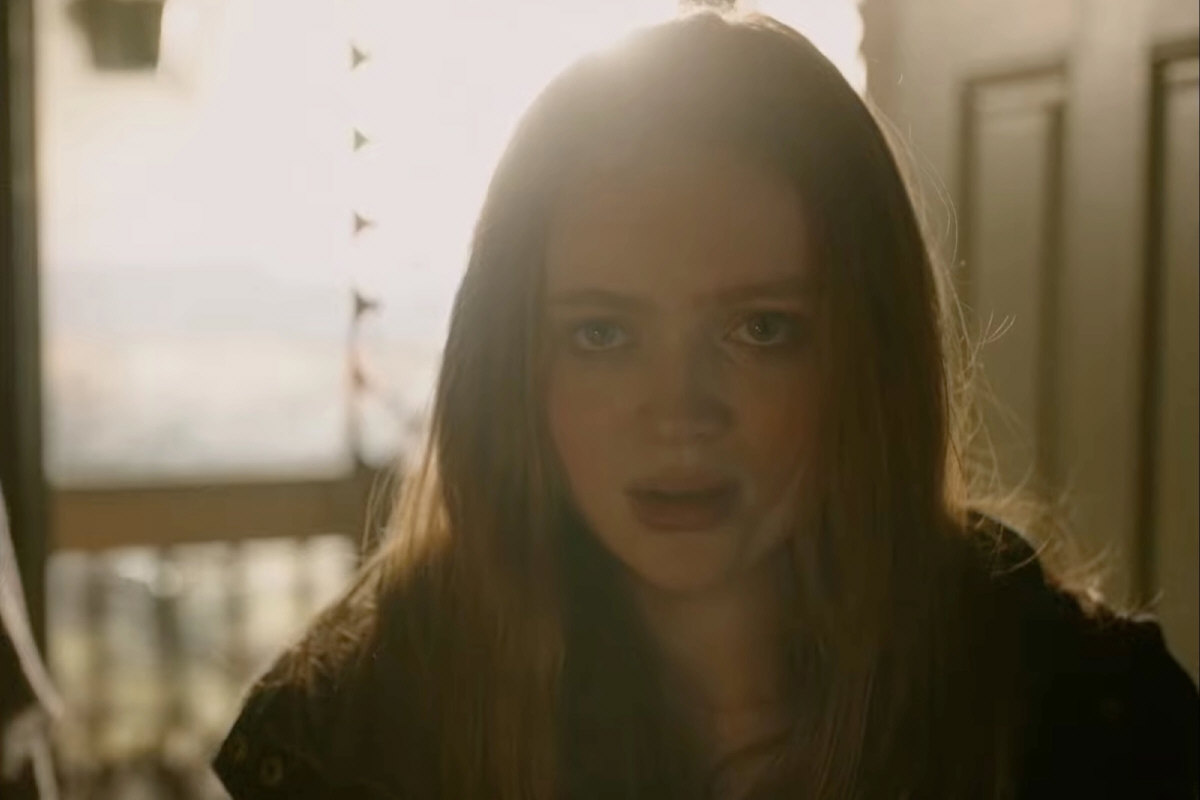
É perceptível que faltou (e muito) um tratamento melhor do roteiro. Tudo é verbalizado demais e informações que poderiam ficar nas entrelinhas ou subentendidas são despejadas de forma expositiva nos diálogos. Além de acompanharmos a morte lenta de alguém, somos colocados em um estado de passividade, já que o roteiro entrega tudo mastigado à audiência e não está disposto a deixar pontas soltas e lacunas que possam ser preenchidas para tornar a história mais complexa e multifacetada.
Aliás, complexidade é algo delicado de mencionar aqui. O filme busca criar personagens bem desenvolvidos, mas as figuras que convivem com Charlie são apenas mal escritas, em oposição a ele, cuja construção dramática é competente e verdadeiramente aprofundada. Existe uma diferença crucial entre personagens complexos e aqueles com desenvolvimento precário. No primeiro caso, as figuras apresentam motivações e atitudes claras e coerentes e, por mais que caiam em contradição, suas ações respeitam uma certa verossimilhança interna de sua caracterização. No segundo, os personagens apenas tomam decisões arbitrárias com base no que o roteiro precisa, ignorando sua lógica previamente estabelecida.
Se pararmos para pensar, por que Liz continua a dar alimentos calóricos para Charlie, se ela mesma o aconselha várias vezes para que procure um hospital e sabe que o excesso de comida pode matá-lo? E por que Ellie vai visitar o pai, se ela o odeia tanto? Como ela sabia que ele não estava bem, se nem sua mãe sabia e ele vivia fechado em casa? E por que ela segue o encontrando, se poderia ganhar o dinheiro que ele havia prometido mesmo sem permanecer em sua companhia a partir da primeira visita? Se ela não o odeia, por que o trata de modo tão violento? A personagem toma atitudes que mais parecem fruto de uma roleta-russa dramatúrgica do que ações normais de um ser humano. É de se questionar também por que Thomas, instantes depois de ser perdoado pela família, pressiona Charlie com um argumento punitivista que contrasta com o perdão sobre o qual o personagem literalmente havia acabado de falar.
Essas e outras incoerências compõem um roteiro que, a rigor, não tem solidez. Se o filme funciona minimamente, o mérito é das atuações. O quarteto principal está bem, embora as interpretações de Brendan Fraser (indicado ao Oscar de Melhor Ator este ano) e Sadie Sink soem um pouco carregadas em certos momentos. No entanto, o ator consegue transmitir muito da dor e da resignação do personagem apenas com os olhos e a expressão facial melancólica. A intérprete de sua filha, por outro lado, se sai muito bem ao transitar entre um lado perverso e indiferente da adolescente e uma mágoa persistente que ela sente por ter sido abandonada pelo pai quando criança, ainda que o roteiro a trate de forma quase caricatural. Hong Chau (lembrada na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar) e Ty Simpkins entregam atuações ainda melhores, sem pesar tanto no choro e com um pouco mais de nuances.

Em termos técnicos, tudo que é bem realizado no filme funciona até certo ponto. A maquiagem, por exemplo, é bem feita na maior parte do tempo, mas a textura da pele parece muito falsa em diversos momentos. O êxito da quantidade enorme de próteses que cobrem o corpo de Fraser é visível, paradoxalmente, quando usado com mais discrição, deixando o resultado do excesso de peso ser transmitido em maior grau através da interpretação física muito bem realizada pelo ator.
A trilha sonora de Rob Simonsen, embora agradável, é bastante manipulativa e intrusiva em certas passagens, às vezes até mesmo se sobressaindo às falas dos atores e quase forçando um sentimentalismo que só parece artificial. No caso da fotografia, a cargo de Matthew Libatique, mais uma vez, é um trabalho bem feito, mas parece um tanto quanto protocolar, não apenas nos enquadramentos e composições repetitivos e pouco inspirados, mas também na paleta de cores, mantendo um mesmo tom azul acinzentado e insípido ao longo de todo o filme. Além disso, a metáfora com chuva e sol é pouquíssimo original e, como o próprio final do filme, absolutamente piegas.
Além de excessivamente melodramático, o fim de “A Baleia” é confuso discursivamente. O personagem principal parece ter uma espécie de redenção moral ou espiritual, mas a reconstrução do vínculo com a filha é abrupta e frágil demais para que realmente acreditemos que ela ocorreu. Além de ser concretizada da forma mais constrangedora possível, a impressão que fica é que o encerramento tenta trazer algum tipo de realização para o protagonista, quando na verdade Charlie está indo ao encontro de uma morte terrível — sem ter conseguido se reaproximar verdadeiramente a tempo da filha ou da ex-esposa (participação excelente de Samantha Morton), humilhado pelo missionário e desenganado pela melhor amiga, mas metafisicamente andando sem dificuldade e sendo alçado aos céus, como se a obesidade mórbida fosse simplesmente uma questão espiritual. É um esforço tremendo para imprimir algum tipo de catarse que pode até funcionar junto aos espectadores (na sessão que fui havia pessoas saindo aos prantos), mas que é inorgânico e, pior ainda, eticamente questionável, assim como todo o filme, sobre o qual ainda continuo me indagando: o que há de interessante e construtivo em testemunhar a morte agonizante de alguém cuja condição é concreta, e não apenas uma abstração fictícia?
“A Baleia” termina por ser um drama autoindulgente que se pretende relevante, mas cuja profundidade é comparável à água que banha a areia da praia. Salvo do completo fiasco por interpretações comprometidas dos atores, o filme seria esquecível, não fosse a entrega de Brendan Fraser e a forma como sua carreira foi reavivada pela obra, que serviu como um impulso para que o ator superasse uma série de problemas pessoais pelos quais tem passado nos últimos anos. Mais do que apenas problemático, o filme de Aronofsky dispensa o bom senso e caminha tropegamente na intersecção entre o fazer cinematográfico e o tratamento eticamente responsável que se espera ser dado a temas sensíveis como aquele(s) que o filme busca abordar.
Cá entre nós, a capa do livro, ou neste caso, o título do filme, já é razão mais do que suficiente para um início de julgamento. Que pena não ter sido apenas mais um dos tantos casos de um bom filme com título mal traduzido. ■
A BALEIA (The Whale, 2022, EUA). Direção: Darren Aronofsky; Roteiro: Samuel D. Hunter (baseado na peça de mesmo nome); Produção: Jeremy Dawson, Ari Handel, Darren Aronofsky; Fotografia: Matthew Libatique; Montagem: Andrew Weisblum; Música: Rob Simonsen; Com: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton; Estúdio: Protozoa Pictures; Distribuição: A24, Califórnia Filmes; Duração: 1h 57min.
filme A Baleia
filme A Baleia
filme A Baleia
filme A Baleia
filme A Baleia
